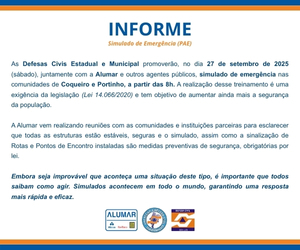O radialista Antônio Carvalho Duarte, mais conhecido como Tony Duarte, hoje mora com a família em Brasília, onde administra um site de reportagens políticas: “Radar DF Notícias”.
Nesta sexta-feira (22), a convite do Jornal Pequeno, ele aceitou, pela primeira vez, falar abertamente sobre a invasão da Rádio São Luís, naquela fatídica manhã de sexta-feira, 24 de maio de 1996, em que escapou de morrer. Aos 65 anos de idade e 41 de profissão, ele descreve o episódio e faz um desabafo:
“Eu e o saudoso irmão Ederaldo Menezes fomos ignorados. O Sindicato dos Jornalistas deu apenas uma tímida nota e nada mais do que isso. O Sindicato dos Radialistas nem isso fez.
Sabia que estava sozinho em uma guerra onde o crime organizado estava empoderado no Executivo, no Legislativo e no Judiciário do Maranhão”. Eis o relato de um sobrevivente:
UM POUCO DE UMA TRISTE HISTÓRIA
“24 de maio de 1996: Como todos os dias feitos ao longo de 14 anos ininterruptos, acordei às três horas, saí às quatro e cheguei antes das cinco horas na Praça João Lisboa, centro da cidade. Recolhi os jornais do dia e me desloquei para os estúdios da Rádio São Luís, na Areinha.
A senha de combinação com o vigia da vez era sempre a mesma: alguns fachos de luz alta dados ao sair da primeira rotatória que dá acesso ao Bacanga. Uma mania de segurança adotada por mim para que o portão fosse aberto sem eu ter que esperar do lado de fora.
Tinha consciência de que algo de ruim poderia me acontecer. Ao longo da minha vida profissional sempre recebi ameaças, seja por telefone ou presencial, fato comum aos jornalistas sem medo seja de que área for.
No dia 23 de maio havia feito uma entrevista por telefone com o secretário de Segurança, Jair Xexeo. Um coronel do Exército trazido por Roseana para o Maranhão. Perguntava a ele porque a polícia estava perdendo de dez a zero para os bandidos, já que os assaltos assolavam no estado e ninguém era preso.
Como isso podia acontecer? Perguntava eu. Ele dizia que a polícia não tinha bola de cristal para adivinhar onde os bandidos iriam atacar. Na verdade ninguém ia preso por haver cumplicidade entre policiais e as quadrilhas que assaltavam nas estradas como o bando bel.
Sentia comigo mesmo que estava mexendo em uma coisa perigosa. Escrevia e falava sobre isso. Na noite anterior havia ido ao Cope, uma divisão de polícia especializada comandada pelo então delegado Stênio Mendonça, assassinado um ano e um dia após o meu atentado. A delegacia na época funcionava na Rua da Palma a poucos metros de O Imparcial, jornal onde eu trabalhava como editor da página de polícia.
Na noite do dia 23 de maio daquele ano, convidei Stênio Mendonça para um quadro jornalístico que acabara de criar no meu programa de rádio. Na sala do delegado, além dele estava toda a sua equipe de policiais. Na hora ele aceitou ir ao programa no dia seguinte, às cinco e meia da manhã. Stênio Mendonça era um delegado duro, correto e probo.
Eram 19 horas quando retornei para a redação do jornal para fechar a página do dia seguinte. Dez minutos depois um agente chegou até a mim na redação e disse-me que o delegado queria falar novamente comigo. Fui até lá. Desta vez o encontrei sozinho. Disse-me que não poderia comparecer ao programa por estar fazendo uma campana durante a noite entrando pela madrugada e que não teria condições físicas para participar no dia seguinte. Pediu que a sua participação fosse adiada.
Me despedi de Stênio, atravessei a rua e entrei na Delegacia de Furtos e Roubos. Convidei o delegado titular Júlio César, que de pronto aceitou o convite. Tanto Júlio César quanto Stênio faziam parte da banda boa da Polícia Civil do Maranhão.
No final do primeiro e do segundo governo de Roseana, o Maranhão vivia um quadro de violência gigantesco. A onda de roubos a bancos na capital e no interior ocorria na velocidade da luz. Os roubos de cargas nas estradas eram diários.
As quadrilhas estavam empoderadas. A reação da polícia era tímida. A situação tornava-se pauta principal dos jornais de São Luís e do meu programa de rádio. Todos os dias narrava e escrevia esses fatos.
Naquele dia nebuloso de 24 de maio, cheguei três minutos atrasado para a abertura do programa “Bom Dia São Luís”. O nosso saudoso Ederaldo Menezes, falecido no ano passado, 23 anos após o atentado, já estava de pé.
Era um jovem cheio de vida. Um dos melhores profissionais do rádio que já conheci em toda a minha vida. Uma pessoa humana extraordinária. Por ser solteiro tinha o estúdio como a extensão de sua própria casa. Se espichava a noite sobre um colchonete e acordava cedo para colocar a rádio no ar.
Às cinco horas e 10 minutos daquela manhã, puxei o cabo do microfone e me concentrei na melodia do Padre Zezinho que usava na abertura do Bom Dia São Luís. A letra me tocava n’alma por falar da família e de Deus. “Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai”. Essa estrofe da música era a minha segurança divina.
Três minutos depois o telefone toca e do outro lado da linha era o delegado Júlio César me informando que não poderia participar do programa. Havia passado a noite inteira cuidando do filho bebê com cólica no hospital.
Com dez minutos de programa, Ederaldo Menezes, como de costume, se levantou da mesa de áudio para pegar cafezinho para nós.
Foi ele o primeiro a ver pelo aquário do estúdio que a rádio estava sendo invadida naquele momento. Um homem mascarado com uma escopeta na mão se dirigia para o ambiente em que estávamos.
“Meus Deus”, gritou Ederaldo saindo do estúdio indo ao encontro do bandido. Tive o reflexo de apagar as luzes do estúdio ainda com a rádio no ar. O microfone caiu das mãos. Me protegi por trás do rack de som e não debaixo da mesa como alguns afirmam. Tinha consciência que aquele bandido estava à minha procura. Era apenas uma questão de minutos para tirar-me a vida. Era presa fácil sem ter para onde ir.
Tinha a percepção clara de que aquele 24 de maio de 1996 seria o meu fim. Ederaldo Menezes decidiu sair do estúdio e ir ao encontro do bandido.
“Cadê o doutor Stênio Mendonça?”, perguntou o mascarado.
-Não veio ao programa”, respondeu Ederaldo.
“Cadê o Tony Duarte?”, insistiu.
-Também ainda não chegou, respondeu.
Ederaldo acreditava que pudesse ganhar tempo, conversando com o invasor que estaria atrás de mim e não dele.
Acreditava ainda que alguns minutos à frente começassem a chegar os primeiros donos de bancas de revistas que diariamente compravam ou trocavam por novas edições na distribuidora de revistas de Zildene Falcão, proprietário da Rádio São Luís.
Naquele momento de angústia arrastei o telefone para perto de mim e liguei no 190, da PM. O número que tanto propagava no meu programa não me serviu. Tive vontade de sair do estúdio para ver o que estava acontecendo fora. Uma força superiora fez me aquietar. Um peso grande no peito. Perdi os sentidos atrás daquele rack de som onde o “bg” (música de fundo do programa) parecia insistir no ar que algo de errado estava acontecendo dentro da Rádio São Luís. Foi o bg que fez um ouvinte ligar para a Polícia para verificar o que estava acontecendo.
Além do homem mascarado que adentrou a rádio, havia outros três do lado de fora. Um estava no volante do carro Pampa e dois haviam dominado o vigia Zé Comprido, tomando-lhe a arma e feito refém.
O homem retornou com Ederaldo para o pátio da emissora. Falou aos companheiros deles que Stênio não fora ao programa e que não havia me encontrado. Foi aí que decidiram pela execução sumária de Zé Comprido e de Ederaldo.
Zé Comprido não sobreviveu aos tiros. Ederaldo, mesmo com uma bala que atingiu a coluna cervical, foi encontrado com vida por uma guarnição da PM que chegara ao local 10 minutos do fato acontecido. Os anúncios das emissoras de rádio daquele dia já me davam como morto. Toda área foi isolada.
Centenas de pessoas da Madre de Deus e de outras comunidades vizinhas desceram para ver o que estava acontecendo. O trânsito engarrafou. Fui encontrado ainda desmaiado pelo pessoal da perícia dentro do estúdio. Após medicado e voltado ao normal, fui perceber o tamanho da tragédia. Havia um pai de família morto e o meu parceiro de jornada estava tetraplégico em um leito do hospital.
Apesar de ter escapado, a partir daquele momento perdi a minha liberdade. O único lugar que o Estado tinha condições de me dar proteção e iniciar as investigações para identificar os assassinos era ficar na condição de preso dentro do Comando Geral da PM no Calhau.
Foi o delegado Stênio Mendonça que iniciou as investigações. O bando, na hora da fuga, dois seguiram de carro e dois fugiram a pé. Trinta dias após o atentado, o delegado Stênio Mendonça chegou aos nomes dos suspeitos: dDois eram PMs e dois civis.
Após essas primeiras descobertas, pedi para deixar o quartel, já que lá era o único lugar que não deveria continuar sob a proteção do Estado. Me sentia desprotegido. Não tive sequer o apoio da minha categoria. Havia colegas que produziam chacotas com um dos fatos mais estúpidos da história do jornalismo maranhense.
Eu e o saudoso irmão Ederaldo Menezes fomos ignorados. O Sindicato dos Jornalistas deu apenas uma tímida nota e nada mais do que isso. O Sindicato dos Radialistas nem isso fez.
Sabia que estava sozinho em uma guerra onde o crime organizado estava empoderado no Executivo, no Legislativo e no Judiciário do Maranhão.
Me tornei um homem vulnerável junto com a minha família. O crime mandava na cidade. Saí da Rádio São Luís e me mudei para a Rádio Capital. A minha permanência em São Luís durou um ano e um dia após a invasão da Rádio. No dia 25 de maio de 1997, mataram o delegado Stênio Mendonça, na praia do Calhau. No dia seguinte, por telefone, em frente da minha casa, me deram 24 horas para deixar o programa e sair da cidade. Foi o que eu fiz para proteger a minha família. Tomei a decisão de mudar para Brasília.
A Fenaj (Federação Nacional de Jornalista) me acolheu e me indicou ao primeiro emprego. Mesmo longe por 22 anos de irmãos, parentes e amigos, nunca deixei de visitar e ter uma relação profunda de irmão com o meu saudoso Ederaldo Menezes. Ele se foi no ano passado. Poucos amigos da profissão prestaram a última homenagem.